Por Claudia Souza
“É no silêncio que nos reconhecemos agora.
No silêncio e em todos estes pequenos,
ínfimos, minúsculos gestos”
(José Mário Silva)
No início do ano, fui ao teatro, não para assistir a um espetáculo, mas para escutar. Tratava-se de um espetáculo-leitura do escritor francês Daniel Pennac (autor, entre outros, de “Como um romance” e “Diários da Escola”). Quase duas horas previstas de… leitura. Na fila de entrada do teatro as pessoas se perguntavam: “Mas será que não vai ser tedioso?” “Talvez cansativo, não?” Outros comentavam: “Tem de ser muito bom pra manter a concentração do público esse tempo todo, só com a voz”.
Eu estava relativamente confiante. Mesmo porque sempre adorei ouvir leitura em voz alta. As palavras lidas tem esse dom sobre mim, de me enlevar, de me capturar. Além disso sou uma fã incondicional de Pennac, desde que, ainda no Brasil, fui apresentada a sua obra. Mas era noite, pensei. Depois de um dia de trabalho duro. Cheguei a duvidar um pouco das minhas capacidades de ouvinte. O corpo estava cansado, realmente. Mas a alma, acabei concluindo, estava ávida por escutar a voz e as palavras ao vivo de uma pessoa com quem já tinha estabelecido uma relação intensa através dos livros.
No fim da noite, estava completamente encantada e satisfeita, tinha sido um privilégio participar de uma coisa tão bela e única. A leitura, longe de entediar ou de aborrecer, tinha reavivado em mim (e ao que parece na maioria do público, que aplaudiu freneticamente) aquelas noites gostosas de leitura em voz alta em casa, no calor do afeto familiar. Primeiro como filha, depois como mãe, experiência ainda mais intensa (li para meu filho até bem pouco tempo, seguindo justamente um dos relevantes conselhos de Pennac para cultivar o gosto pela leitura).
Jung chamava de “sincronicidade”, essas coincidências interessantes que nos rodeiam e que só pegamos no vôo quando estamos muito atentos. Porque no dia seguinte, conheci no trabalho uma senhora japonesa de seus quase 70 anos, cujo trabalho é narrar histórias usando como recurso apenas a voz.

– Onde está o livro? – perguntaram as crianças, assentadas em roda, quando ela anunciou que lhes contaria a história de um rei, mostrando apenas algumas folhas de papel escritas a mão.
Ela mexeu os ombros.
– Mas assim não vale! – reclamou um menininho, cruzando os braços em sinal de oposição.
– É! – contestou uma outra. – Como faremos para ver o rei?
– Vocês precisarão fechar bem os olhos! Foi a resposta.
As crianças modernas são bastante eloquentes – eu sei. Faz parte da nossa cultura ocidental ensiná-las a se expressar, a defender seus pontos de vista, a argumentar. As novas tendências educacionais reforçam essa necessidade e declaram que “quem não tem voz não tem vez”. Barbara Rogoff nos lembra que “é muito frequente observarmos, entre as famílias ocidentais, o hábito de treinar os filhos na arte da oratória, principalmente durante as refeições. Os pais lhes fazem perguntas, pedem que contem como foi o dia na escola, e enquanto escutam vão oferecendo elementos de refinamento do discurso: elementos de coesão, de coerência, assinalam incongruências, estimulam as mais variadas descrições”. Também entre si é fácil perceber aquelas crianças que possuem maior capacidade retórica: em geral são aquelas que dominam as outras mais fracas, menos carismáticas, nas brincadeiras espontâneas. Os professores e os pais se preocupam com as crianças mais silenciosas, ditas introvertidas, esperam e trabalham para que “desabrochem”, para que “aprendam a vencer a timidez”, a participar, a “se colocar” – oralmente – diante do mundo. Às vezes afirmam que são alheias, que não prestam atenção… será mesmo?
(Existe ao mesmo tempo uma contradição: mesmo estimuladas à eloquência, nossas crianças ainda são moldadas por programas educacionais aos quais devem simplesmente obedecer… mas isso é uma longa história).
Nesse dia, nessa roda de leitura, fiquei pensando em como deveríamos, nós, profissionais da literatura, educadores e pais, nos dedicar, entre outras coisas, a favorecer a arte da escuta. Que na “fome de histórias” que as crianças têm, como disse Davide Calì uma vez, é importantíssimo variar os recursos, oferecer e estimular tudo que for possível como alimento da narração, todas as formas possíveis de “leitura”, no sentido muito amplo da palavra. A escuta pura e simples é uma modalidade que não podemos condenar à extinção, mesmo se pareça anacrônica e que, ao menos de início, seja desacreditada pelas novas gerações, imersas numa cultura veloz, imagética e tecnológica.
As palavras “escutadas” passam a ter um significado especial na nossa rede cognitiva e afetiva, dizem os cientistas. Mas no mundo de hoje, não seriam raras demais as ocasiões de escuta (no sentido amplo da palavra)?
Essas crianças (como observo com muita frequência em outras situações) simplesmente não sabiam escutar! Entediavam-se. Revoltavam-se. Pediam insistentemente por imagens (“Onde? Onde?”). Interrompiam a contação o tempo todo com perguntas, com exclamações queixosas (“Que lenteza!”), com comentários, até com certo desdém. A senhora dos contos parecia já acostumada a essa experiência e, com sua voz pausada e calma, seguia adiante sem lhes dar atenção. No início me senti incomodada com isso. Porque sou uma que escuta muito as crianças, que aprecia conversar com elas, vê-las interagir. Mas pouco depois entendi que aquele era um momento especial: que elas estavam sendo desafiadas, desta vez, a escutar um conto inteiro sem conversar, sem interromper, a deixar-se levar pelas palavras de outrem, a viajar por territórios pouco conhecidos construindo sentidos e imagens mentais. Não, não era um diálogo simples – que a gente tem outras oportunidades de ter – era um diálogo mais íntimo, mais profundo, mais refinado, de voz pra alma. Como aquele que eu tinha tido com Pennac na noite anterior. Ou que se tem durante a leitura silenciosa de um bom livro. E que era bom, muito bom! aprender isso também.
Era interessante ela seguir adiante sem repetir ou sem interromper. Pensei na mãe (e na professora) que chama o filho (ou aluno) dez, onze vezes pra jantar, pra tomar banho ou pra ir embora (façam a fila! guardem os cadernos! abram o livro, repete a professora) e ele(s) continua(m) absorto(s) em suas atividades, sem nem se incomodar. Se a criança sabe que será convocada inúmeras vezes, por que (para quê?) atender à primeira chamada?
(…)
Era interessante também ela falar palavras complicadas, que talvez as crianças desconhecessem mas que traziam “musicalidade literária” ao conto. Pensei que a tarefa de ler ou escutar um livro denso, complicado, cheio de caraminholas linguísticas é tão entusiasmante quanto frustrante; e que aprender a lidar (e até a ter curiosidade para) com essa frustração da satisfação imediata é um passo importante no processo de se tornar um leitor respeitável. Ou seja: para aprender a ler (a ler realmente, o que significa ser um leitor operativo, apaixonado e crítico), é necessário muitas vezes abdicar de certos prazeres imediatos. É mais ou menos como a meditação, sem certo centramento não se chega ao melhor da coisa. Ler, embora seja imensamente prazeroso, dá trabalho, requer esforço!
Por fim pensei nas diferenças culturais com relação à escuta. No Japão, terra dessa senhora tão interessante (bem como na maioria das culturas orientais) falar muito é sinal de imaturidade ou de estupidez; escutar, ao contrário, é sinal de sabedoria. Se você faz uma pergunta a um japonês é bem capaz dele não te responder logo e aí você, como bom ocidental, vai tentar aumentar a sua eloquência, explicando melhor a pergunta. Mas não, ele entendeu sim, só está pensando bem antes de quebrar um valor cultural seu, o silêncio.
Num conto budista, durante um passeio pelo campo, o Mestre chama a atenção dos monges para o som alto e irritante de uma carroça.
– Está vazia – ele declara.
E os monges, inquietos, perguntam como faz para sabê-lo.
– É barulhenta. Toda carroça vazia é muito barulhenta, enquanto aquelas carregadas não fazem nenhum barulho.
Bem, o fato é que da metade pra diante da contação as crianças foram “silenciando” na escuta atenta (mentalmente ativa), e com isso foram deixando o corpo se acalmar, foram se encostando umas às outras, deitando-se pelo chão, alongando-se, sem perder o fio da história. Algumas sorriam, outras nem piscavam; o ambiente era de muita felicidade e de muito encantamento. Tinha um quê de coletividade que eu nunca tinha visto naquele grupo… O laço que unia a todos eram as palavras pronunciadas com calma (quase uma canção) e o silêncio entre elas (as longas pausas). Era a fluidez leve, o conteúdo fantástico, a voz de quem lia e a alma de quem escutava. Tinha foco. Coisa rara nos nossos rápidos, movimentados, barulhentos e “multi” dias.
Fiquei pensando nos milhões de imagens que deveriam estar criando, “imajando”, infinitamente mais potentes que qualquer uma que pudéssemos lhes oferecer.
Um verdadeiro espetáculo-leitura, como tinha sido pra mim no dia anterior. Ótima lição de escuta. Certamente todos se recordarão daquele momento e daquela história, simplesmente… e tão fortemente… narrada. Aquelas palavras ficarão impressas em todos.
Enfim, concluí: o processo de formação de leitores é fractal. De cada ponto se toca em outro que contém tudo, cada experiência traz milhares de pensamentos e de reflexões e só querendo – nos propondo a – desfiar o inteiro novelo conseguiremos fazer algo de realmente eficaz nesse sentido.
Sobre a autora deste texto:
 Claudia Souza é escritora e psicóloga com especialização em psicopedagogia, psicolinguística e educação artística. Mineira, mora em Milão há seis anos. Publica livros infantis em português, italiano e inglês e artigos em jornais e revistas no Brasil e na Itália. Pesquisadora da Infância, trabalha em projetos de intervenção cultural direcionados a crianças, entre eles o grupo ProgettoQualeGioco e o Istituto Callis Italia. Trabalha ainda na International School of Milan. (www.quemconta.wordpress.com)
Claudia Souza é escritora e psicóloga com especialização em psicopedagogia, psicolinguística e educação artística. Mineira, mora em Milão há seis anos. Publica livros infantis em português, italiano e inglês e artigos em jornais e revistas no Brasil e na Itália. Pesquisadora da Infância, trabalha em projetos de intervenção cultural direcionados a crianças, entre eles o grupo ProgettoQualeGioco e o Istituto Callis Italia. Trabalha ainda na International School of Milan. (www.quemconta.wordpress.com)




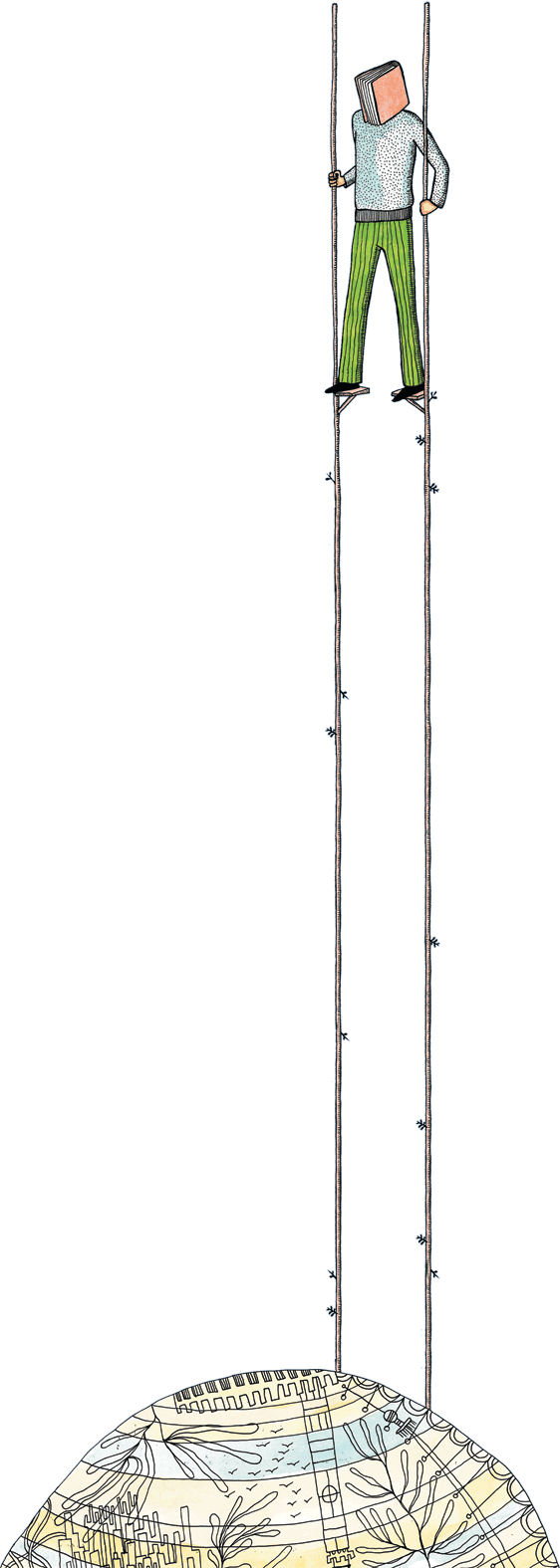
Deixe um comentário